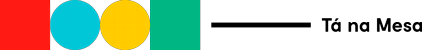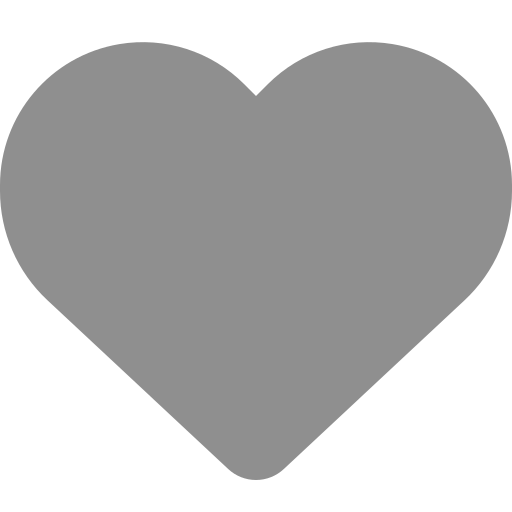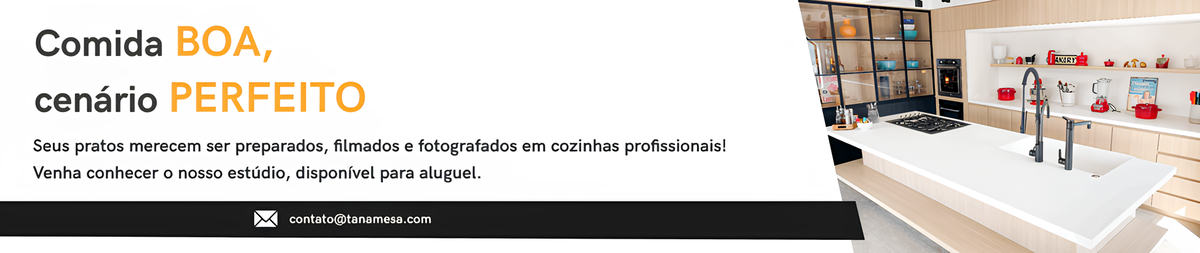Tabuleiro da baiana: uma síntese da culinária afro-brasileira
Patrimônio cultural imaterial reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), as baianas do acarajé são símbolo de uma tradição culinária que se iniciou no período colonial brasileiro.
Veja também:
Veja como preparar o tradicional caruru, par perfeito do acarajé
https://www.youtube.com/watch?v=FOr9ovFblvI&feature=youtu.be
Num texto publicado no site do Museu da Gastronomia Baiana, do Senac (www.ba.senac.br/museu), o antropólogo e museólogo Raul Lody, especialista em antropologia da alimentação, explica como se forjou essa ligação: “Desde os ‘ganhos’ no tempo do Brasil colônia, as mulheres e suas vendas ambulantes pontuam a cidade, fazendo ‘quitandas’ – comércio de frutas, doces de coco, bolos, mingaus, panos-da-costa e outros produtos da costa africana, cuja clientela, na Bahia, sempre buscou e busca referenciar-se e se situar nessa relação de identidades entre a África e o Brasil”.
E, para ele, o acarajé, famoso bolinho feito com massa de feijão-fradinho e frito no azeite de dendê, é o prato-síntese dessa culinária miscigenada. “É um marco da permanência do gosto africano, formando e conformando o paladar do brasileiro”, escreve o antropólogo.
“No tabuleiro da baiana tem…”
Mas nem só de acarajé vive a culinária afro-brasileira. Há muito mais por aí, como pontua o livro Antologia da alimentação no Brasil (editora Global), lançado no final dos anos 1970, organizado pelo historiador e antropólogo Luís Câmara Cascudo (1809-1986): “A primeira linha da chamada cozinha afro-brasileira é a representada principalmente pelo abará, acarajé, xinxim, efó, caruru, vatapá e moqueca”, diz o texto feito especialmente para a obra por Hildegardes Vianna, de tradicional família baiana e pesquisadora da cultura popular da terra.
No capítulo do livro que trata desse tema, a obra fala das transformações que as receitas trazidas da África sofreram por aqui, “de maneira a perder muito de suas características originais, para se transformar de prato africano em legítimo prato baiano”. Adaptações muitas vezes necessárias, porque produtos originais que não eram encontrados por aqui tiveram que ser substituídos por outros da terra.
Para ficar num único exemplo, o acarajé era originariamente apenas um bolinho frito. A moda de servi-lo cortado ao meio e recheado com uma infinidade de molhos, como o encontramos hoje nas barracas das baianas, é, segundo o livro, coisa que nasceu por volta dos anos 1960. O molho principal é o vatapá, mas tem também o de pimenta, de pimentão e até de rodelas de tomate (“prova de degenerescência da espécie culinária”).
Outro pesquisador que meteu a colher na origem desses quitutes foi o engenheiro e escritor Guilherme Radel (1930-2019) em seu livro A cozinha africana da Bahia (edição do autor, 2006), como explica o jornalista J. A. Dias Lopes em artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo.
Radel defendia que muitos pratos dessa culinária baiana tradicional, que têm como ingrediente marcante o azeite de dendê, derivam de receitas portuguesas, com certeza. É o caso, por exemplo, do vatapá, que seria “primo” da açorda. Esse preparado lusitano é uma espécie de papa de miolo de pão ensopado em caldo quente, temperado com azeite e alho, que pode ser acompanhado de peixe e frutos do mar. Uma das versões do vatapá também é feita com pão dormido, enriquecido com leite de coco, dendê e especiarias baianas. Radel tinha que os únicos pratos com os dois pés fincados na África são o acarajé e o abará, este último feito basicamente com os mesmos ingredientes do primeiro, só que, em vez de frito, é cozido no vapor, envolto em folha de bananeira.
A mão que prepara o guisado
Os autores pesquisados por Dias Lopes - dentre os quais Darwin Brandão (A cozinha baiana, Livraria Universitária, 1948) - creditam as adaptações dos pratos às cozinheiras que pilotavam os fogões dos colonizadores portugueses que aportaram por aqui.
Primeiramente, essa função foi ocupada pelas cunhãs, índias escravizadas pelos portugueses. “Foram elas que começaram a adaptar as receitas europeias aos ingredientes tupiniquins. Entre outras coisas, aprenderam com o colonizador a técnica do ensopado e aperfeiçoaram a moqueca, que antes preparavam como guisado, enrolada em folhas de planta”, escreve Dias Lopes.
Com a chegada dos africanos, a cozinha foi entregue às mucamas com habilidade para as panelas. “Encontrando-se em estágio cultural superior ao das cunhãs, elas prosseguiram a adaptação culinária. O resultado foi, conforme Brandão, ‘uma comida misto de português e africana, mais africana, porque era a negra quem fazia’”, explica o jornalista.
Como eram adeptas do candomblé, as mucamas teriam levado essas comidas para os terreiros, o que, segundo Brandão, acabou transformando a cozinha baiana em cozinha dos deuses.
Cada santo ou orixá tem a sua comida de preferência, com ingredientes e temperos que combinam com sua personalidade. O chef Carlos Ribeiro, que lidera a Mesa Tabuleiro da Baiana, até assina um livro que trata do assunto, em parceria com o antropólogo Vilson Caetano. Intitulado Comida de santo que se come, a obra reúne 35 receitas criadas por Ribeiro a partir dos pratos sagrados dedicados a 15 orixás, como Iemanjá, Iansã e Oxum. É o caso de um filé com farofa de dendê dedicado a Exu, apresentado no livro como “o dono do mercado, do azeite de dendê, que come tudo com pimenta, tem suas comidas prediletas, mas come as dos outros”.